ANDO DEVAGAR
PORQUE JÁ TIVE PRESSA
especial
Nesta sexta, uma cesta
de João Antônio!
O escritor da
marginalidade
A mesa é triste como uma bola branca que cai. Isso é frase que apanhei de vagabundo na Lapa. Parece uma frase literária, mas não é.
Não é possível produzir uma literatura de heróis taludos ou de grandiosidade imponente na vida de um país cujo homem está, por exemplo, comendo rapadura e mandioca em beira de estrada e esperando carona em algum pau-de-arara para o Sul, já que deve e precisa sobreviver.
João Antônio (João Antônio Ferreira Filho) nasceu em São Paulo em 27 de janeiro de 1937. Escritor e jornalista, criou o conto-reportagem no jornalismo brasileiro. Seus contos faziam retratos de poletários e marginais que vivem nas grandes cidades, como o Rio de Janeiro.
Nascido em uma família de pequenos comerciantes do subúrbio paulistano, João Antônio trabalhou em empregos mal remunerados antes de lançar seu primeiro livro de contos, Malagueta, Perus e Bacanaço, em 1963, sucesso imediato de público e crítica. Já na sua primeira obra, ganhou dois prêmios Jabuti (revelação de autor e melhor livro de contos) Prêmio Fábio Prado e o Prêmio Prefeitura Municipal de São Paulo. A dupla premiação no Jabuti foi um feito inédito para um escritor estreante.
A história deste livro merece um romance. Os originais da obra foram destruídos em 1960 no incêndio da casa da família do escritor, que deixou a ele e sua família só com a roupa do corpo. João Antônio refugiou-se então numa cabine da Biblioteca Municipal Mário de Andrade e reescreveu todos os contos, de memória.
Em 1976, o conto que dá título ao livro, a história de três jogadores de sinuca do submundo paulistano, vira filme com o título O Jogo da Vida, com direção de Maurice Capovilla e com Lima Duarte no elenco.
O sucesso literário conduziu-o à atividade jornalística. Trabalhou inicialmente no Jornal do Brasil. Foi da equipe fundadora da revista Realidade, em 1966, na qual publicou o primeiro conto-reportagem do jornalismo brasileiro, Um dia no cais (1968). Trabalhou, ainda, na revista Manchete, O Pasquim e em diversos órgãos da imprensa alternativa, de oposição ao regime militar. Neste período, alternava residência entre Rio de Janeiro e São Paulo.
Em 1967, casa-se com Marília Mendonça Andrade. No mesmo ano nasce seu único filho, Daniel Pedro.
Mas no final dos anos 1960 resolve mudar radicalmente de vida. Larga seu emprego, destrói seus cartões de crédito, vende seu automóvel, separa-se da mulher e passa a vestir-se de forma despojada, geralmente de bermudas e sandálias. Enfim, adota um estilo de vida próximo ao da marginalidade vivida por seus personagens, tudo para se dedicar inteiramente à literatura.
Produziu 15 livros, mas sempre se recusava a participar de cerimônias e de se vincular a grupos e academias literárias. Aceitava apenas convites para palestras em escolas e universidades.
Viajou pelo Brasil em 1978 e pela Europa em 1985. Em 1987, agraciado com bolsa de estudos, radicou-se na Alemanha, onde permaneceu até 1989. Neste período, conheceu também Holanda e Polônia, realizando conferências.
Faleceu em 1996, e seu corpo só foi encontrado 15 dias depois de seu desaparecimento.
Em 2005, Mylton Severiano publicou "Paixão de João Antônio", livro que tem sua escrita com base em cerca de 200 cartas que João Antônio enviou ao amigo jornalista.
Após a morte de João Antônio, seu filho Daniel Pedro cedeu a biblioteca pessoal e as mobílias do pai para o Departamento de Literatura da Universidade Estadual Paulista (UNESP), em Assis-SP. Os pertences estavam no apartamento do escritor em Copacabana, na Praça Serzedelo Corrêa. São livros de João Antônio em diversas línguas; livros de amigos com dedicatórias de Lygia Fagundes Telles e Jorge Amado, Clarice Lispector, Dalton Trevisan, Moacyr Scliar, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino; jornais e revistas - entre elas a Realidade; correspondência ativa e passiva, além de anotações feitas a punho em papel de padaria; discos de 78 rotações, troféus e quadros. Sob os cuidados do CEDAP (Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa), o Acervo João Antônio em Assis auxilia pesquisadores do escritor e está aberto à visitação pública.
João Antônio foi o intérprete do submundo, o escritor da marginalidade. Seus personagens são as criaturas que vivem na periferia das grandes cidades e da vida, operários, biscateiros, soldados, crianças abandonadas ou quase, prostitutas, pedintes, homossexuais, jogadores de sinuca, desempregados, gente que se reúne nos cenários da periferia, vilas e favelas com seus botequins, seus campos de pelada e as diversas curriolas do vício e do crime. Rio de Janeiro e São Paulo são apresentados ao leitor no conjunto espantoso de seus contrastes e na extraordinária vibração humana de seu cotidiano.
A linguagem de João Antônio é a um só tempo elaborada e malandra, o que a tornaria única na literatura brasileira, não fosse a companhia de Plínio Marcos a trilhar pelo mesmo caminho. Mas, apesar da escrita elaborada, não se espere de seus personagens sentimentos falsos ou esperança de redenção: a realidade é tratada de forma lírica, mas sem dissimular seu lado cruel.
A evolução de sua obra também é marcada por um crescente teor autobiográfico dentro de suas narrativas: como o jornalismo vem ganhando força em cada nova publicação, é compreensível uma também crescente formalização, na voz do narrador-jornalista, de um ethos que corresponde à voz do João Antônio-jornalista. Esta faceta de sua obra fica evidente no conto Abraçado ao Meu Rancor, texto em que o narrador-personagem é um repórter “arrastado” do Rio de Janeiro para sua cidade natal, São Paulo, para fazer uma matéria sobre os pontos turísticos desta, e na coletânea Dedo-Duro (1982), onde se trabalha a profissão do jornalista no contexto da ditadura militar.
O fator autobiográfico, ainda que indiretamente e/ou não marcado, não deixa de ter também sua relevância nas primeiras narrativas. João Antônio sempre aludiu - em suas entrevistas, crônicas, ensaios, artigos e mesmo em seus próprios contos - à extrema importância de um vínculo consistente entre literatura e realidade.
Os temas tratados, com o tempo, também vão se modificando. Unicamente interessado pelos marginalizados da sociedade em um primeiro momento, João Antônio abomina a classe média, à qual apelida de “mérdea”, principalmente por causa da alienação e descaso para com o “miserê” da maior parte dos brasileiros. Na parte final de sua obra, seu olhar finalmente encontra interesse em personagens pertencentes a esta classe social tão detestada. Em Abraçado ao meu rancor (1986), por exemplo, os contos Televisão, Publicitário do Ano e Abraçado ao meu rancor, que dá nome ao livro, tratam e criticam duramente esta camada da sociedade brasileira; camada à qual, morando em Copacabana, o próprio João Antônio agora inevitavelmente pertencia, vivendo, assim, abraçado ao seu rancor.
OBRAS
1963: Malagueta, Perus e Bacanaço
1975: Leão-de-chácara
1975: Malhação do Judas carioca
1976: Casa de Loucos
1977: Lambões de Caçarola (Trabalhadores do Brasil!)
1977: Calvário e Porres do Pingente Afonso Henriques de Lima Barreto
1978: Ô Copacabana!
1982: Dedo-duro
1984: Meninão do caixote (coletânea)
1986: Abraçado ao meu rancor
1991: Zicartola e que tudo mais vá pro inferno!
1992: Guardador
1993: Um herói sem paradeiro
1996: Patuléia
1996: Sete vezes rua
1996: Dama do Encantado
1978: 1878 — JOÃO ANTÔNIO. O Copacabana!
"O escritor é um marginalizado neste tipo de sociedade caótica, desgovernada e incultural. […] Ser reconhecido na rua, para ele, é um milagre. Ele foi editado, citado em jornais e um dia, de algum modo, meteu-se com atividades de seu tempo. O país é agrafo e o brasileiro tem memória curta. Ninguém o convida para mais coisa nenhuma e nem o visita”.
“Meu irmão, aí distante, venha me visitar. Mas venha armado, coberto, como se diz aqui. As ruas como a praça estão ruins e pequenas para assaltantes e assaltados se mexendo na multidão de camelôs, mafuás e empregados avulsos dos contrabandistas poderosos e famosos, conhecidos da Polícia Federal e de todas as polícias e, claro, impunes. Impunes e permitidos. Também há os justiceiros a serviço de não se sabe quem, há represálias, correrias, gritos, caçadas policiais. E novos espancamentos de menores. Enfim, rua copacabanense é lugar de tumulto, e o que nos resta de humor sobrevive, nada roto, na estética do horror, do estremeção e do medo. Estes lados vão vivendo um tempo de inchaço, escopeta, sangue e miserê, tempo assustado, feio e ladrão”.
Haviam andado na noite quente! Bilhar após bilhar, namoraram mesas, mediram, estudaram jogos lentamente. Não falavam não. Picava-lhes em silêncio, quieto mas roendo, um sentimento preso, e crispados, um já media o outro. Iam juntos, mas de conduta mudada e bem dizendo, já não marchavam em conluio. Bacanaço, mais patife, resmungava aporrinhações, lacrava-lhes na cara que a vida na Água Branca poderia ter rendido mais. Espezinhava. E aquela tensão ia ficando grande. (…) Malagueta, arisco. Conhecia aquilo como a palma de sua mão. Para a ganância besta não haveria o que bastasse. Um esbagaçaria o outro e juntos estraçalhariam. O velho os alertou, que era bom o conluio.
Agora a caminho da subsistência. À Lapa, buscar pão e carne na subsistência, viagem de todas as manhãs. Eu gostava do volante, adorava o volante. E mais, gostava daquelas idas à Lapa, porque me deixavam sozinho, atravessando a cidade toda, todinha. E bairros, e bairros, lá ia eu. Santa Cecília, Perdizes, Pompéia, ia tão contente no caminhão, que o caminhão parecia meu.
A DOR NO PAÍS DOS
TAPINHAS QUE NÃO DOEM
Armando Antenore
Um tapinha não dói? E um soco-inglês no queixo? Uma capoeira nos pulmões, um estilete no estômago? Se o caro leitor cultiva a crença de que palavras já não machucam, dê uma olhada em "Abraçado ao Meu Rancor". Dificilmente escapará da surra.
O livro do paulistano João Antônio -que chegou pela primeira vez às lojas em 1986 e agora reaparece por iniciativa da Cosac & Naify- reúne dez contos. Só uns poucos trazem relatos de violência física. Mesmo assim, nada que se compare à brutalidade de um Rubem Fonseca.
Sangue, tiros, torturas desempenham papel secundário no universo ficcional de João Antônio. O autor, que morreu em 1996, com 59 anos, prefere tratar de outra espécie de violência, a dos abismos sociais.
Miseráveis de toda sorte -prostitutas, cafetões, mendigos, bêbados errantes, moleques de rua, subempregados, bandidos de baixo quilate- acompanham o escritor desde que, em 1963, despontou como um dos melhores contistas do país.
À época, incentivado pelo editor Ênio Silveira (da Civilização Brasileira), estreou com "Malagueta, Perus e Bacanaço", coletânea de 11 histórias que logo se tornou um clássico, traduzido para oito idiomas. A narrativa que batizava o volume resgata, nos dizeres do próprio João Antônio, "as andanças aluadas e cinzentas de três vagabundos, malandros, viradores, quebrados, quebradinhos numa noite de São Paulo".
Os 20 livros publicados depois ("Leão-de-Chácara", "Malhação do Judas Carioca", "Casa de Loucos"...) apenas alargaram a estrada que insistia em seguir pelas margens da sociedade. De tal maneira que, nos compêndios de literatura, João Antônio cristalizou-se como o "estadista dos humilhados e ofendidos", o "arauto dos deserdados".
Refletindo sobre o autor, outro Antonio -o célebre crítico Antonio Candido- argumentou: uma das principais contribuições da ficção literária é "a possibilidade de dar voz, de mostrar em pé de igualdade os indivíduos de diferentes classes ou grupos". Nos contos, novelas e romances, portanto, os marginalizados têm a chance de reviver. Recuperam "o teor de humanidade" que a exclusão social lhes tirou.
Para o Antonio crítico, o Antônio escritor permite justamente isso: que os rejeitados "existam, acima da triste realidade".
"Abraçado ao Meu Rancor" -título extraído de um tango argentino- não foge à regra e deixa o lúmpen passar. Estão ali a meretriz de pés sujos ("Mimi Fumeta, boca de chupeta"), o flanelinha decrépito ("velho cachaça, velho chué!"), o juiz de futebol ("cachorrão!"), o sambista esquecido e os jogadores de sinuca.
Não à toa, na dedicatória, o autor homenageia "o pioneiro" Lima Barreto (1881-1922), romancista carioca que se interessou por personagens semelhantes.
A coletânea, porém, oferece uma surpresa em relação à fauna habitual de João Antônio. Desta vez, há histórias que centram foco na classe média: no publicitário falastrão, no jornalista que frequenta as altas rodas, no sitiante à procura de um empréstimo bancário. Em princípio, são vitoriosos -só que nem sempre o escritor os retrata assim. Ora cuida para que se sintam tão derrotados quanto qualquer pé-de-chinelo. Ora os submete à avaliação raivosa dos excluídos, que os chamam de "sujeitinhos", "gajos", "tipos".
A raiva, aliás, pontua todos os dez contos. Raiva contra as diferenças de classe, contra a degradação das cidades imposta pelo furor capitalista, contra o mundo de fantasias que a mídia vende. "Não pode existir uma literatura boazinha no Brasil atual", defendia João Antônio em 1984, dois anos antes de lançar a coletânea. "Precisamos é de uma literatura possessa, que dê urros."
Nas 208 páginas de "Abraçado", os urros acabam ecoando por meio de uma linguagem francamente coloquial, "realista até o limite da reportagem" -para usar a frase do crítico Alfredo Bosi, que assina o prefácio do livro.
Complicado identificar, em muitas das histórias, a origem dos tantos ressentimentos. Quem, afinal, destila observações impiedosas -o autor-narrador ou os personagens? Propositadamente, a voz de um se confunde com a dos outros. Mesmo porque João Antônio nasceu e cresceu entre os "merdunchos, os desvalidos" num bairro operário da capital paulista (depois, radicou-se no Rio, mas não se distanciou dos ambientes marginais).
Em 1960, um incêndio devastou a casa onde morava e destruiu a versão original de "Malagueta, Perus e Bacanaço". Para animá-lo a recomeçar o trabalho, o pai do escritor -imigrante português, dono de armazém- ordenou: "Levante a cabeça, rapaz. Pobre tem de fazer tudo duas vezes".
Quando "Abraçado" surgiu, resenhas de jornal apontaram problemas no livro: excessiva simplificação das relações sociais; lirismo beirando a pieguice; "amargura legítima" atrapalhando a "transfiguração" artística; narrativa "moralista" conduzindo o leitor à empatia "esbofeteante", mas pouco reflexiva.
São ressalvas de fato consideráveis -que, entretanto, não anulam o essencial: em "Abraçado", a realidade importa menos que os sentimentos. E sentimentos tendem, sim, ao reducionismo.
Tome-se o caso do flanelinha que protagoniza o primeiro conto da coletânea. Idoso, enfraquecido pelo álcool, pergunta-se: por que os motoristas não lhe dão gorjetas se ele camela o dia inteiro, debaixo de sol e chuva, para guardar carros alheios? Não encontra respostas satisfatórias. Ainda que simples, a equação lhe dói como "um paralelepípedo". Não dói?
BOLO NA GARGANTA
O irmão se chegou e ajeitou-lhe as cobertas.
Sentiu que amolecia aos poucos, ouviu as gotas caindo. Um barulho baixinho, gostoso. A impressão era de estio. Virou-se para a parede mas não queria dormir. A certeza de que era assim toda a noite, pouco a pouco se aproximando, acabava dormindo, e quando se acordasse, a mãe zombaria dos roncos, trouxelhe um desgosto fundo que o botou de olhos muito abertos a olhar o reflexo da luz na parede. Que bom se arranjasse um jeito de não dormir.
Via o irmão entretido com o livro verde. Por que lia tanto? Não perguntou.
Lembrou-se de que poderia ser chamado de espírito santo de orelha e chato.
Ouviria coisas desagradáveis, ouviria dizer que estava na cama e cama é lugar da gente dormir. Mas por que o irmão lia tanto? Não entendia. O irmão, gente grande, usava bigodes e sabia tantas coisas de escola! Entretanto, falava de um jeito confuso; uma pergunta redundava em vinte outras. Chamavam-no, então, de pedaço de asno. Entendia e não entendia o xingamento, mas percebia a
finalidade; era o mesmo que: “Fique quieto”. É. A mesma coisa. Olhava agora para o irmão, que lhe estava de costas. Procurar o foco de luz indireta. Luz sempre lhe afugentava o sono. O livro verde era grosso, tinha retratos no meio, o irmão dizia-lhe ser coisa séria. Coisas sérias... Para o irmão todas as coisas eram sérias...
* * *
O tintureiro japonês contava-lhe histórias de guerras e de mares. Guerra – ele sabia – os moleques fazem com um pedaço de lama endurecida. Metade da trinca em cada borda da rua, atiram barro uns nos outros. Aquilo o agradavagostoso ver moleques brincarem, não havia os beliscões da empregada, não havia as caçoadas da mãe. Papai também lhe disse que na guerra gente briga com gente, trabalhando armas perigosas, terríveis, mais mortíferas que a
Winchester de matar passarinho. Torcia os beicinhos cada vez que ouvia.
– Puxa vida!
Mares – eram águas grandes, ganhavam metade do mundo. Mais da metade do mundo. Mundo – não entendia o que fosse. Falavam de bola, o irmão dava-lhe o atlas, ele não entendia. Bobagem alguém viver dentro de bola... O japonês era bonzinho. Tudo que falava, ele entendia.
– Onde já se viu gente morando em bola.
Desistira de entender o que era mundo.
À tarde, o pai trouxe-lhe um embrulhinho amarelo. Estouvado, jogou para longe o pião, quis abrir. Era um ioiô azul! Ah, arrancou-o, quis enfiá-lo nos dedos, o elástico não obedecia. Procurou o dedão, inútil. O mindinho, o furabolo, não ia. Enfezou-se.
– Calma, vem cá.
O pai ajustou o elástico. Mas era comprido, arrastava-se no chão.
– Quero que nem o de Paulo.
Arrumaram. Pareceu-lhe igual ao do vizinho. Bem. Agora brincar. Os dedinhos brancos, terra nas unhas, mexeram-se, torceram-se, o ioiô não ia. Desgostou-se com aquilo. Por que o ioiô não dava certo? Foi ver o “cheq... cheq…” aborrecido das mãos da lavadeira lá no tanque. Pôs-se de longe, a olhar quietinho, senão tiravam-no dali. Acocorou-se, meteu os dedos na terra, o ioiô atrapalhava-o;
entretanto, imaginou que iria construir túneis imensos com gente dentro, gente grande, é claro, já que crianças como ele não podem viver em túneis. Construiria com as mãos e a terra do quintal.
* * *
Mamãe o chamou para levar a capa do irmão ao tintureiro. Bom. Ouvir histórias e aprender a jogar ioiô.
– Lava seco, duzentos cruzeiros.
Quanto seria duzentos cruzeiros? Não, não perguntaria, que assim não esqueceria o ioiô.
Experimentando. Dedos para baixo, mão fechada, o ioiô dentro dela, palma aberta, atira, puxa, atira... não dava certo.
– Calma, assim.
Acertou na sorte. Mas talvez não repetisse. Tentou com medo de errar.
Acertou. Agora fazia como Paulo; à ideia de que Paulo já não lhe era avantajado, torceu os beicinhos vermelhos, suspirou fundo, fechou longamente os olhos, baixou a cabeça, sorriu com malícia.
O tintureiro contou uma história de índios que matavam e devoravam pessoas,
como eles dois. Os brutos dominavam os matos.
– Matavam e comiam, pra quê?
O homem arrumou os óculos. Difícil explicar. Engendra exemplos, quer comparar, não sabe esmiuçar os brutos que devoravam gente branca e mandavam nos matos. Debandou, falou nos brancos, suas guerras e mares, torceu lorotas.
– Ora, criança esquece logo.
Mas a batida se repetiu. Se a gente come pudim... não, nada de brancos miúdos. Queria os índios. O tintureiro engasgou, ressalvou-se, descartou-se, escorregou nos índios.
– Menino impossível.
* * *
Para os lados da casa, ia encabulado. Os índios têm ioiô? A lavadeira gritou-lhe que fosse tomar banho, mamãe mandou-o não roncar à noite, o irmão atrapalhou-o com um palavrório que não entendeu. Amuou. Não lhe explicavam.
Foi ao papagaio.
– Louro, louro!
– Louro bobo que não sabe nada.
Por que índios comem carne de pessoas? Como eles são? Não lhe diziam, não lhe diziam. Começou a crescer-lhe um bolo na garganta.
O pai catou-o na rede a choramingar. Aí, ele acusou todo mundo. Num berreiro. Ninguém lhe dizia coisa alguma, era só caçoada que sabiam fazer.
Papai pôs cara severa, fingiu bater na empregada, advertir o irmão, botar a mamãe de castigo.
– Para não zombar do menino.
E, voltando-se, certo do efeito, mimou-o. Prometeu levá-lo a ver índios do cinema.
* * *
Índios nada. Bobagem. Comeram nada. Faziam, sim, algazarra, e tinhamfeições de gente que joga bola. Cabelos de mulher e numa gritaria terrível.
Danadamente agitados, penas nas cabeças de mulher. Por que faziam-no ficar com aquele bolo na garganta, aquela coisa dentro do peito? Raiva de não saber.
Cada vez que lhe negavam uma resposta o bolo crescia, subia à garganta, tomava-o todo. Vinha-lhe, então, raiva e vontade de sair correndo e quebrar todos os brinquedos de Paulo. Todos, deixar Paulo sem brinquedos, chorando.
* * *
Com força, o enxurro batendo na vidraça. Não explicavam, não explicavam.
Confusão de coisas: aqueles da fita não eram as coisas do tintureiro. Bichos com penas, como mulheres, gritalhões. Mamãe diz que no sono ele fala e ronca. Ele não gosta de caçoada e, não podendo se vingar, um bolo na garganta como depois do cinema. Que chuva! Um livro verde que o irmão vira uma folha de quando em vez, aquilo o distrai, o bolo diminui. Nos túneis vivem pessoas
grandes, crianças não. Ioiô igualzinho ao de Paulo, sem diferença (Paulo não tem vantagem). Sente um pouco de frio, encolhe-se.
– Louro bobo que não sabe nada.
Olhinhos abertos, fugir do sono. A luz indireta projeta um círculo luminoso no quarto; acompanhá-lo com os olhos. Estar atento. Índios não são aqueles do cinema. Uma risadinha:
– Onde já se viu gente morando em bola?
Se perguntasse o valor de vinte cruzeiros teria sido melhor. Os beliscões da empregada doem menos que o bolo na garganta. Mamãe zombará porque ele ronca, no sono. Acompanhar o círculo de luz, não há de perdê-lo, que ele espanta o sono. Que bom se conseguisse distrair-se, evitar o sono!
Aí, parece-lhe que o sono é um círculo de luz, projetado no quarto pela lâmpada indireta. E que se vai fechando.












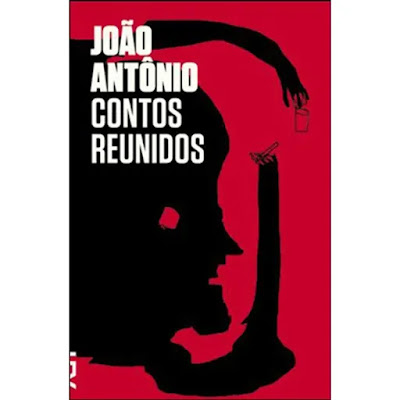
Nenhum comentário:
Postar um comentário